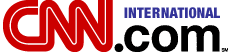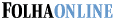“Muxima” é a palavra que em quimbundo designa
“coração”. E “amigo”, como se diz? Que palavras dizem a amizade de José Eduardo
Agualusa e Mia Couto? Alguns pontos de uma genética comum: livros, identidade,
a vida secreta das plantas, as cores que temos e que uma menina de quatro anos
vê e um adulto não vê. Mas esta é a maneira poética de ler as suas vidas. Falta
a guerra, as guerras, a procura de respostas, o empenhamento cívico e político.
A felicidade que floresceu na infância, apesar do horror.
Pub
São criaturas de fronteira.
Mia Couto, nascido António, em Moçambique, já
disse de si: “Sou um branco que é africano; um ateu não praticante; um poeta
que escreve prosa; um homem que tem nome de mulher; um cientista que tem poucas
certezas na ciência; um escritor numa terra de oralidade.”
José Eduardo Agualusa é um “angolano em
viagem, quase sem raça”. Se a raça vier do ar e do chão, é da raça dos pássaros
e das árvores.
São amigos há tanto tempo que parece uma
amizade de sempre. Têm percursos quase coincidentes, apesar da especificidade
das suas histórias e da dos seus países. Mia nasceu em 1955, Agualusa em 1960.
Nesta semana, Agualusa lançou o romance
histórico Rainha Ginga — E de como os Africanos Inventaram o Mundo. Mia fez a
apresentação.
A entrevista foi na casa de Agualusa. Mia, não
surpreendentemente, estava em casa. É preciso dizer que se riem muito. Um do
outro, de si próprios, de imbecilidades (a palavra é deles). Os risos são muito
mais recorrentes do que aqueles que são anotados no texto. Porquê? Deve ser da
graça que encontram no mundo. (Graça no dicionário: mercê, benefício, dádiva;
benevolência, estima, boa vontade; beleza, elegância.)
Qual é a palavra de que mais gosta em
quimbundo? Pode ser pela sonoridade ou pelo conteúdo.
Agualusa — Sou da zona do umbundo, o Huambo. O
quimbundo tem uma tradição escrita que o umbundo não tem. Ainda cheguei a
aprender quimbundo. É mais fácil responder em umbundo: ombembua. Significa
“paz”.
O som de ombembua faz-me pensar numa nuvem.
Mia — Flutua.
Agualusa — É uma língua inventada pelos
pássaros.
Mia — É piado.
Mia, o biólogo e inventor de palavras, fala a
língua dos pássaros? Qual é a palavra de que mais gosta num dialecto
moçambicano?
Mia — Estou a aprender aquilo a que
presunçosamente chamaria “a língua da vida”. O que me apaixona na Biologia é a
parte linguística, não é a parte científica. No sentido de decifrar códigos. Há
linguagens que estão ali, presentes, e a gente está surda. E cega.
Por exemplo.
Mia — Fui-me apercebendo com mais clareza como
é que as plantas dizem coisas. Têm de as dizer porque têm relações simbióticas
com pássaros, com morcegos, por causa da polinização. Quando um fruto muda de
cor, está a dizer que aquele é o momento. Está a falar connosco. Isso, o
cheiro, são formas de diálogo.
Agualusa — O fruto é mesmo para ser colhido e
disseminado. Diz: “Vem comer-me e propaga-me.” Concordo com o Mia. Pensamos que
as coisas estão ocultas, os grandes segredos, e está tudo à luz do sol. Não
somos capazes de ver. As crianças muitas vezes vêem.
Os adultos não vêem?
Agualusa — Nalguns casos, vêem à medida que
envelhecem. As crianças vêem o evidente. Costumo contar uma história da minha
filha, de quando era bem pequenina. Uma senhora fez-lhe uma pergunta muito
idiota. “De que raça és tu?” Ela não entendeu. Não tinha sequer o conceito de
raça. A senhora tentou corrigir a pergunta, errando ainda mais. “De que cor és
tu?” A minha filha olhou muito espantada. “Mas tu não vês que sou uma menina?
As meninas são pessoas. As pessoas têm cores diferentes. A minha língua é
vermelha, os meus dentes são brancos, o meu cabelo é castanho.” Temos todas as
cores. É preciso uma criança de quatro anos para dizer o óbvio.
Como é que perdemos a capacidade de ouvir,
ver, ler o mundo? Tem que ver com a perda da inocência? Junto a experiência do
medo. Eram muito jovens, um e outro, quando viveram a guerra dos vossos países.
Não consigo imaginar o que é ter 15 anos e ter a guerra a rebentar à porta. Ou 22.
Agualusa — Éramos mais novos. Eu nasci com a
guerra, em 1960.
A guerra fratricida começa mais tarde, quando
está na adolescência. Aquela que está lá, antes disso, é a guerra colonial.
Agualusa — Tenho a noção da presença da guerra
no meu quotidiano desde sempre. A questão é essa: quando temos desde sempre,
também olhamos para a guerra de uma outra maneira. O meu pai trabalhava nos
caminhos-de-ferro.
Mia — O meu pai também.
Agualusa — O meu pai começou a dar aulas às
populações ao longo da linha do caminho-de-ferro. Tinha um vagão especial, com
uma sala de aulas.
Tenho a noção da presença da guerra no meu quotidiano desde sempre. A
questão é essa: quando temos desde sempre, também olhamos para a guerra de uma
outra maneira
José
Eduardo Agualusa
Como era o vagão?
Agualusa — Muito bonito. A companhia era
inglesa, vagões em mogno, com salões, quartos. Tinha um quarto para mim e para
a minha irmã, com beliches. Havia um cozinheiro, uma cozinha, sala de jantar.
Nas férias, acompanhávamos o meu pai. Lembro-me muito bem de o comboio ser
atacado. Várias vezes. Descarrilavam os comboios, et cetera. O caminho-de-ferro
de Benguela era a principal empresa, na época. Portanto, um interesse
estratégico. Tu deves ter sentido o mesmo.
Mia — Sim.
Agualusa — Toda a minha infância teve a guerra
como pano de fundo. Não estava dentro das casas. Estava ali ao lado.
Mia — A guerra que não está ao lado de casa
chega através de vozes e de histórias. Coisas que assumem um carácter
ficcional. Com nove anos, ouvia falar do que se passava na guerra de libertação
nacional.
Além da guerra, estava lá desde sempre o
quadro colonial.
Agualusa — A violência, a injustiça
colonial... Se eu, uma criança privilegiada, fui afectado por isso (são
memórias que tenho até hoje), imagino o menino...
Mia — ... que sofria do outro lado do muro.
Agualusa — Custa-me muito ouvir um certo
saudosismo colonial. O discurso do retornado com saudade de África. Como se
fosse um paraíso intocado.
Mia — Como se fosse diferente. [Porque] “os
portugueses nunca fizeram como os outros”.
Agualusa — Era uma sociedade profundamente
distorcida, e só não via quem fosse completamente cego. Era explícito para uma
criança de poucos anos.
Não era preciso que lhe explicassem ou
chamassem a atenção?
Mia — Não.
Agualusa — Estava exposto. Era obsceno.
Mia — O sentimento de inocência, ali,
perdia-se rapidamente.
Agualusa — Antes da guerra, percebíamos a
violência colonial, a injustiça colonial.
Era uma discriminação de que tipo, para
começar?
Agualusa — De todo o tipo. O colonialismo é
feito com pessoas. Pessoas boas e pessoas más. Os sistemas maus puxam pelo pior
das pessoas. O sistema colonial é um sistema de dominação. Se não, não é um
sistema colonial. E a qualquer reacção, a pessoa era considerada terrorista.
Ouvi “terrorista” ou “turra” contra pessoas que não eram nem estavam ligadas ao
movimento nacionalista. Eram simplesmente pessoas que contestavam uma
injustiça.
Precisamos de ter medos porque os medos nos conduzem. É um alerta, um
sistema de avisos. O problema é quando os medos nos dominam, nos paralisam
Mia
Couto
Conte-me da sua experiência em Moçambique.
Mia — É muito semelhante. Vivia numa cidade,
que, sendo a segunda de Moçambique, era pequena. Na Beira, esse carácter
colonial estava tão à flor da pele que ninguém teve de me explicar nada. Quando
tenho consciência do mundo e tenho de tomar partido, já sabia quem eu era e o
que é que ia fazer.
Militou na Frelimo muito cedo.
Mia — Quando vou para a universidade, com 17
anos, sabia que não ia estudar. Sabia que ia aderir ao movimento de libertação
nacional. Não porque tivesse sido doutrinado. Mas por aquilo que vivi. Sabia
que queria fazer uma ruptura completa com o passado. Devo dizer uma coisa: fui
muito feliz nesta infância. Tive uma infância infinita.
Como é que se inventa esse espaço para a
felicidade?
Agualusa — Porque se cria. Porque as coisas
acontecem assim. Mesmo durante o período de maior violência, pode-se ser feliz.
Também fui muito feliz na infância.
Mia — Imagina que era outro tipo de
violência... O espaço da minha casa era de grande afecto.
Agualusa — O da minha casa, também.
Mia — Se calhar era pior ter a experiência da
violência interna, dentro de casa.
Agualusa — Com certeza. Fui muito protegido.
Tive uma família sem... história.
Parece uma coisa terrível, uma família sem
história. E afinal não.
Mia — Antes isso do que uma história sem
família.
Já voltamos à felicidade na infância. Antes:
sentia discriminação pelo facto se ser branco?
Mia — Sim. Havia várias discriminações. Na
cidade, circulavam autocarros. Na África do Sul, estava escrito “Negros/Não
Negros”. Ali não estava escrito, mas era assim que se vivia. Não era preciso
escrever. Estava escrito dentro da cabeça das pessoas. Sabia-se que um negro
nunca podia sentar-se no banco da frente. Havia um banco traseiro, corrido, que
era o lugar onde ficavam os negros. Outra discriminação: não havia “os
brancos”. Havia os brancos de primeira e os brancos de segunda. Os brancos de
segunda (era o meu caso) nunca poderiam chegar a chefe da função pública.
Tinha que ver com dinheiro e status, essa
discriminação?
Mia — Tinha que ver com nascimento, com os que
já nasciam na colónia. Esses eram os brancos de segunda classe.
Agualusa — Isso chegou a ser uma coisa
instituída. Havia os assimilados, os brancos de segunda, os brancos de
primeira.
Mia — Os assimilados eram portugueses de pele
preta.
Agualusa — Era uma coisa horrível! A pessoa
tinha de provar que comia de garfo e faca.
Mia — Além das boas maneiras, tinha de ser
católico, monógamo.
A marca do dinheiro era notória? Havia
colégios em Moçambique frequentados por portugueses brancos e goeses. A
distinção aí não era em função da cor.
Mia — Mesmo entre os goeses havia uma
discriminação enorme. O goês tinha direito a pertencer a um certo clube social
em função da sua casta. Havia vários clubes. Bastava dizer: “Sou do clube
indo-português”, e sabia logo qual era o estatuto social daquele fulano.
Agualusa — É legítimo pensar (é o pensamento
comum) que em Moçambique havia mais discriminação (não instituída, mas havia)
do que em Angola?
Mia — Não sei comparar, mas acredito que sim.
Por causa da influência directa da África do Sul e da Rodésia.
Um momento de felicidade da infância: que é
que primeiro vos ocorre?
Agualusa — Não tive momentos. Tive imensos
momentos. Tinha um quintal enorme. Cães. Brincava muito sozinho. Inventava
mundo sozinho. O meu espaço de felicidade era esse quintal. Além disso, a minha
casa era o limite da cidade. À frente, não havia nada. Vivi nesse infinito. Fui
uma criança com um pé no asfalto e um pé no mato.
Mia — Sabes, a varanda colonial que circundava
a casa e que fazia a transição? Nunca percebi bem o que era o dentro e o fora.
Havia uma porta de rede, batente. Sabíamos que saímos de casa porque ouvíamos
aquela porta bater. Nunca percebíamos se estávamos dentro ou fora. Foi uma
coisa muito mágica.
Isso dura até quando? O que caracteriza essa
noção de infinito, o não haver barreiras, é a ausência de medo, de ameaça. Ou
não?
Mia — Ausência de medo é uma coisa que
funciona bem para caracterizar aquilo. Não?
Agualusa — Não estou seguro. A minha filha
diz-me uma coisa sobre o ser criança. Primeiro, há sempre alguém que manda em
nós. Crescer é deixar de ter alguém a mandar em nós. Ou ter menos pessoas a
mandar em nós. Diminui a cadeia de comando. A outra coisa é o medo. O medo está
muito presente nas crianças. Vamos perdendo medos à medida que crescemos. Não?
Mia — Vais mudando de medos.
Agualusa — Não sei se não vais mesmo atenuando
os medos.
Mia — Tínhamos medos. É melhor confessar!
Agualusa — Tínhamos medos e éramos felizes!
Mia — Eram medos domesticáveis. Medo do
escuro. Vinguei-me quando fiz um primeiro livro para crianças [O Gato e o
Escuro]. O medo cumpre a função de primeiro grande conselheiro.
Não entendo.
Mia — Precisamos de ter medos porque os medos
nos conduzem. É um alerta, um sistema de avisos. O problema é quando os medos
nos dominam, nos paralisam.
Agualusa — Tive uma professora especial, de
uma família nacionalista, uma senhora de grande coragem. Não tive de aprender a
geografia ou a história portuguesas. Não tínhamos Salazar na parede.
Estudávamos poesia angolana. Ela criou o seu próprio programa de ensino. Em
contrapartida, era muito violenta. Vivia no terror de ir ao quadro. Passámos
tormentos que hoje seriam impossíveis.
Fez alguma redacção, para essa professora ou
outra, de que se lembre especialmente? Em relação à qual tenham dito: “Que bem
escreve.”
Agualusa — Não tenho a menor ideia. Era
considerado um mau aluno. Estava na chamada fila dos burros irrecuperáveis.
Nunca teve essa ideia de si próprio, pois não?
A sério.
Agualusa — Não me achava muito inteligente. A
minha irmã era muito mais inteligente do que eu. Fazia tudo mais depressa,
melhor.
Mia — Eu também vivi essa situação.
Estão a fazer género, os dois.
Agualusa e Mia — Não! [gargalhada]
Agualusa — Fui melhorando. Eu era feliz em
casa. E inventava.
Inventava dentro da sua cabeça ou já
escrevendo alguma coisa? Quando pergunto por uma redacção, tento compreender
quando estabelece uma relação com a palavra escrita.
Agualusa — Mais tarde, muito mais tarde. É
preciso ler muito [para escrever].
Como foi consigo, Mia?
Mia — Era mau aluno e a escola foi penosa.
Apurei o sentido de não estar no lugar [onde efectivamente estava] na escola.
Agualusa — Eu também!
Mia — Isso foi uma escola fantástica. De
alheamento. Com os olhos abertos, fingindo estar atento. É uma coisa que
procuro ensinar aos meus filhos: a capacidade de não estar.
Agualusa — É uma coisa de budista avançado.
Mia — A escrever comecei cedo. A única coisa
que me salvava de ter nota negativa a Português era a redacção.
Agualusa — A minha mãe era professora de
Português. Tinha muitos livros em casa. Também devias ter. O teu pai era poeta.
Não me proibiam o acesso aos livros. Lemos os livros que podemos ler. Pegamos
num livro e percebemos se é para nós ou não. Tento fazer isso com os meus
filhos. Li dicionários e enciclopédias. Tenho ali dois tomos de uma
enciclopédia que os meus pais me deram há pouco tempo, porque eu tinha muitas
saudades daquela enciclopédia, uma Lello Universal. [Levanta-se e vai buscar.]
Edição dos anos 1930, com figuras, capa dura.
Linda.
Agualusa — Nesta enciclopédia, o Fernando
Pessoa tinha morrido há pouco tempo e só tem direito a duas linhas. Para se ver
que não lhe davam muita atenção. O Hitler ainda é tratado com benevolência.
E assim se aprende o mundo. Ando às voltas
para tentar saber de onde vem o vosso mundo fantástico.
Mia — Posso contar uma história da escola?
Tinha um professor magro, alto, que um dia leu uma redacção que fez. Era uma
redacção para a mãe dele. Sobre as mãos da mãe dele. Comoveu-me tanto. Era
estranho. Ele também estava comovido. Tinha uma relação de paixão com o texto.
Falava das mãos da mãe como eu pensei que podia falar das mãos da minha mãe. As
mãos da mãe dele só tinham marcas. Do tempo, do trabalho. Aquilo foi importantíssimo.
Aquele professor ficou um menino frágil.
Esse professor era o Zeca Afonso? Sei que foi
aluno dele.
Mia — Não. O Zeca foi meu professor por um
período curto de tempo. Foi substituir a minha professora de Geografia. Toda a
gente o considerava um óptimo professor. [Em surdina] Eu achava-o péssimo. Mas
era divertido e ensinava outras coisas.
O vosso mundo fantástico, poético, o talento
para ver a realidade nos seus aspectos mais espantosos, e a converter em
palavras, de onde vem?
Mia — É difícil falarmos de nós próprios. Vem
de várias coisas. Por exemplo, sou de uma geração educada a ser homem, macho.
Quais eram os códigos?
Mia — Um homem não chora. Um homem não
confessa certo tipo de sentimentos. É duro. A relação com o lado sentimental
era diferente desta que tomei para mim. Quando se escreve e se tem de ser
mulher e ser outro, dentro de nós há uma briga. Há uma ousadia que é preciso
ter. A capacidade de nos aceitarmos múltiplos, plurais, é um bom ponto de
partida para escrever.
Agualusa — Não sei dizer. Talvez tenha que ver
com essa infância.
Mia — Posso dizer o que é que ele tem de
especial?
De
repente, as palavras organizam-se, há uma luz ali, os personagens começam a
desenhar uma história. É como ler. Mas sou eu que estou a fazer. É um duplo
prazer. É um mundo que vai nascendo de dentro de nós
José
Eduardo Agualusa
Pode. É capaz de ser mais fácil falarem um do
outro. Verem-se de fora.
Mia — Ele é uma criatura de fronteira. Alguém
que esteve entre mundos e que não quis nunca construir um lugar físico. Vive em
histórias permanentemente. A moradia dele não é um lugar e um tempo. O tempo só
serve para a travessia, para a viagem. E nunca está em lado nenhum. Está aqui
mas está a fingir que está aqui. [Gargalhada de Agualusa.] Estando nós a viajar
no meio da Ucrânia ou num musseque em Angola, ele está sempre na criação de
histórias. Não tem um onde.
Agualusa — Na minha família, toda a gente
contava histórias. Toda a gente queria contar as melhores histórias.
Mia, esperavam de si grandes histórias,
grandes coisas?
Mia — Eu era o mais desvalido da casa. Era o
pasmado, o que não sabia fazer coisas práticas. Tinha de haver um território
onde dissesse — onde disséssemos — que somos visíveis.
Agualusa — [Contar histórias] é uma afirmação
identitária. O que é importante no nosso caso, tu como moçambicano, eu como
angolano, é que na escrita há uma afirmação identitária.
Mia — Começa por ser isso. Depois já não
queremos saber disso.
Agualusa — O meu primeiro livro, A Conjura, um
romance histórico sobre o século XIX, é claro para mim que surge como afirmação
identitária. Depois é como o Mia diz. A gente toma o gosto naquilo. E vai.
Resolver e afirmar uma identidade, através da
escrita, é também uma maneira de suturar feridas?
Agualusa — Afirmação identitária mesmo. Um
modo de dizer: “Estou aqui neste país e sou angolano desta maneira.”
E a ferida? Não havia como não estarem em
ferida, doridos, quando começaram a escrever. O fim da guerra, das guerras, era
recente. A escrita ajudou a organizar o mundo?
Mia — A ideia de alguém ter uma ferida
particular... Todos temos.
Agualusa — A escrita ajuda sempre. A escrita é
um processo de reflexão. Ajuda-nos a situar-nos naquele momento, naquele universo.
Depois vem a fruição, o prazer de que falava o Mia. Escreve-se pelo prazer que
a escrita dá.
Descreva.
Agualusa — É muito bom. Tem aquela coisa da
descoberta, certo, é um exercício de alteridade, maravilha, compreende-se
melhor o outro e compreendemo-nos melhor a nós, verdade. E, além disso, e o
mais importante não é nada disso, há o prazer. De repente, as palavras
organizam-se, há uma luz ali, os personagens começam a desenhar uma história. É
como ler. Mas sou eu que estou a fazer. É um duplo prazer. É um mundo que vai
nascendo de dentro de nós.
É bonito que fale desse prazer, sobretudo
porque temos a imagem do escritor angustiado.
Agualusa — Em Portugal, há a escola do
escritor angustiado. Portugal tem um culto do sofrimento, da tristeza, da melancolia.
Aquilo que é prazer tem de ser [também] sofrimento.
Mia — O sofrimento como elemento identitário é
[marca] do catolicismo. Quando me ofereci para ser membro da Frelimo, fui a uma
sessão em que era o único gajo jovem e o único gajo branco. Havia um grupo que
ajuizava os candidatos e estes tinham de apresentar uma “narração do
sofrimento”.
Narração do sofrimento?
Mia — Cada candidato chegava e dizia o que é
que sofreu. Comecei a ficar atrapalhado. Eu não tinha sofrido nada, na verdade.
Aquilo era gente mesmo sofredora. Gente que tinha sido presa, que passava fome,
que tinha sido espancada, discriminada racialmente. Percebi a minha felicidade
como nunca tinha percebido. Entendi mais tarde que aquilo era uma marca do
cristianismo.
A confissão e partilha?
Mia — O sofrimento como prova de identidade.
Agualusa — Cristianismo na sua versão mais
calvinista, que era a que vocês mais tinham.
Voltemos atrás para que Agualusa diga o que é
que Mia tem de especial.
Mia — Ele não me acha nada de especial.
Agualusa — Provavelmente, o facto de o Mia ser
o irmão do meio [é decisivo]. O irmão do meio tem de dar provas. Tem que ver
sempre com a necessidade de afirmação. Chamar a atenção numa área. Chamar a
atenção da mãe. Estamos a tentar explicar coisas que não se explicam. Nasceu
com isto..., com esta deformidade. [Riso.]
A deformidade de ser um poeta que escreve
prosa? Foi assim que Mia se apresentou uma vez.
Agualusa — Como é que nasce um xamã? Um xamã
tem um lado que é de formação e um lado que não é de formação — é de condição.
É poeta, nasceu poeta!, coitado, podia ter nascido com uma perna torta.
Mia — Imagina que tinhas jeito para fazer
coisas? Tens jeito? Hoje podias ser um engenheiro de pontes. São também as
portas que se fecham.
Agualusa — Se tivesse terminado Agronomia,
podia não ser hoje escritor.
Mia — Tenho uma tese sobre por que é que não
terminaste.
Qual é?
Mia — Agronomia implica um tipo que tem raiz.
Este gajo não pode ter raiz. Só pode ter asa.
É uma leitura poética.
Mia — É a verdade. Isto explica duas coisas.
Porque é que aderiste ao curso — porque precisas de ter raiz. E não concluíste
porque não podes ficar numa raiz só.
Agualusa — Devia ter ido para artes
levitatórias. Ou ser condutor de balões.
Quando é que se conheceram?
Agualusa — Posso estar a criar ficção, mas
acho que fui a primeira pessoa a fazer uma recensão de um livro do Mia, aqui em
Portugal, no Expresso. Na sequência disso, uma amiga comum organizou um jantar,
onde o Mia esteve com a Patrícia [mulher].
Mia — Antes disso, cruzámo-nos e falámos sobre
o teu texto. Percebemos que tínhamos muita coisa em comum. Sendo africanos,
brancos, de um certo tipo de família...
Está a enunciar as coisas que vos aproximaram?
Mia — Havia um (termo horrível) destino. Parece
uma confissão. Daqui a bocado, uma confissão gay. Parecia que estávamos fadados
um para o outro. O Zé já era apaixonado pela escrita e pela leitura. Ele era
jornalista, eu já tinha sido jornalista.
Agualusa — E havia o interesse pela Biologia.
Mia — Falámos de nomes de plantas.
De política, falaram muito?
Agualusa — Claro.
Mia — Tínhamos zangas e discórdias.
Agualusa — Não me lembro.
Mia — O Zé tinha uma coisa mais clarividente
do que eu. Maior distância crítica. Eu estava muito dentro do processo político
da Frente de Libertação. Seres mais novo também ajudou. Quando ele punha
dúvidas, eu estava naquela postura do militante mais convicto.
Quando é que deixou de ser convicto? E
militante?
Agualusa — Luto por causas. Continuo a
combater provavelmente pelas mesmas causas. Pela pacificação e democratização
de Angola. Nesse aspecto, não mudei nem perdi a fé.
Não? Se olho para um livro como o Barroco
Tropical, que se passa no futuro angolano, e que dá uma visão tão negra, tão
ácida desse futuro, penso que está desencantado.
Mia — É o livro do não futuro.
Agualusa — O Barroco é uma distopia, um
retrato de um mundo que não quero para mim, para os meus filhos, para as
pessoas que amo. As distopias servem para alertar para os erros do presente na
intenção de corrigir esses erros. Se for olhado dessa maneira, não é um livro
pessimista. Pode haver muito horror, e há, em alguns dos meus livros. Na
Estação das Chuvas, por exemplo. [O que escrevo é] também uma denúncia desse
horror.
Mia — O Zé está condenado a não sair mais de
Angola.
Agualusa — Como assim?
Mia — Angola está tão dentro de ti que, mesmo
estando ausente, Angola persegue-te. Não vais ter outro território de sonho.
Comigo é a mesma coisa em relação a Moçambique. Talvez pela condição histórica
de termos nascido no momento em que os países se estavam a afirmar. Não temos
casa — casa da alma — se não for aquela que está ali.
Assistiram à celebração da paz, tiveram o
sonho. Os países cresceram com as suas desigualdades, injustiças.
Agualusa — Mas a paz não foi feita ainda. Em
Angola, o fim da guerra foi um triunfo militar. Não foi através do diálogo. Não
se constrói a paz assim. A paz implica uma conversa que nunca foi feita.
Implica compreender as razões do outro. As razões do outro não foram ouvidas,
foram apagadas. Estão calcadas, não estão resolvidas. A guerra civil tem uma
razão de ser que se percebe ao longo da História. Tem que ver com a construção
da cidade, do mundo urbano, que cresceu à custa do mundo rural, através da
escravatura. A sociedade mestiça de Luanda enriqueceu com o tráfico negreiro.
Há um rancor histórico que persiste até hoje. É preciso ir mais longe, fazer
uma reconciliação. Eu teria preferido uma paz negociada. Eu preferia sobretudo
que nunca tivesse havido confronto físico, bélico, guerra! Os territórios
sujeitos à guerra têm durante uma eternidade essa guerra. A violência sempre
eclode de novo.
Como se fosse um eco.
Agualusa — Um eco. Aquela violência foi, está
lá, ficou. Como quebrar esse ciclo de violência? É o desafio que temos. Vamos a
todos os grandes filósofos, profetas, de Cristo a Buda. Todos ensinam o mesmo.
Dá a outra face. Faz com que o outro se coloque no teu lugar. Coloca-te no
lugar do outro. Tenta compreender o outro. Não é nada que a gente não saiba. Só
que não se faz. O pior é isso: não é que não saibamos como fazer.
Angola está tão dentro de ti que, mesmo estando ausente, Angola
persegue-te. Não vais ter outro território de sonho
Mia
Couto
Há
uma alegria no Mia, na escrita do Mia... E uma melancolia. Uma tristeza
elegante
Agualusa
Não se faz por causa de diamantes, petróleo,
orgulho, por tudo isto?
Agualusa — [suspiro] Acho que por estupidez.
Falta de inteligência, mesmo.
Fale de como viu o processo de paz em
Moçambique.
Mia — Tenho de rectificar um bocado o discurso
que andava a fazer até há pouco tempo. Depois do fim da guerra civil, em 1992,
os moçambicanos decidiram não falar sobre o assunto. Um ano, dois anos depois,
e não tinha acontecido nada. Ninguém queria abrir aquela caixa. Pensei que era
a maneira mais sábia. As pessoas percebiam que qualquer coisa não tinha sido
resolvida. Essa qualquer coisa era tão essencial que era melhor não tocar nela.
Afinal, acho que não se resolveu bem quando se resolveu não falar. [Não foi uma
boa decisão] enterrar isso no esquecimento. A solução esquecimento não é uma
solução.
Agualusa — Estás a dar-me razão. Tivemos este
combate durante anos. Sempre defendi que é preciso criar rituais de
reconciliação, de perdão. As pessoas têm de chorar em conjunto. Como os casais.
Como os amigos desavindos.
Como as famílias.
Agualusa — Exactamente, é uma família. As
pessoas têm de ser capazes de fazer o luto e de se perdoarem.
Mia — De alguma maneira, esse ritual foi feito
[em Moçambique]. Mudei de atitude, mas não estou de acordo com uma solução de
tipo sul-africano, muito institucionalizada, que não toca os rituais mais
profundos das pessoas.
Rainha Ginga, o novo livro de Agualusa, tem no
centro uma figura icónica da história angolana. Mia está a escrever sobre
Gungunhana, o rei moçambicano, gigante, que viveu entre 1850 e 1906, que todos
queriam capturar. Está para breve?
Mia — Não sei. Quando quero escrever um
romance, aparece-me poesia. Acabei um livro de poesia. Agora encaro a prosa
como um filho que resta. Vou demorar ainda uns seis meses a acabar o que já
tenho feito.
Na contracapa da Rainha Ginga, diz que “Angola
tem muito passado pela frente, no sentido de que há tanto passado angolano por
descobrir e ficcionar”. Anos depois da ratificação da paz, mesmo que ela não
seja tão efectiva quanto gostaria, há tempo para ir lá atrás e falar de uma
figura assim, do século XVI?
Agualusa — Escrevi este livro ao mesmo tempo
que o Mia escrevia sobre Gungunhana e em Angola se produzia um filme sobre a
Rainha Ginga. Talvez haja em África uma demanda comum. É uma tentativa de
redescobrir o passado numa perspectiva africana. O que temos, normalmente, é
uma perspectiva europeia ou uma perspectiva um pouco extremada, nacionalista,
que também é mentirosa. Este livro responde a uma inquietação comum ao
continente (e não apenas à África de língua portuguesa).
Porque é que Ginga o fascina?
Agualusa — Por ser uma mulher que foi capaz de
subverter todas as regras, a sua própria tradição, e de construir um mundo que
era o seu mundo. De inventar um mundo à sua imagem.
É um pouco o que fazem com a escrita: inventar
um mundo.
Agualusa — Pois, mas ela põe no terreno, nós
pomos no papel. Menos corajoso.
Gungunhana interessou-o porquê?
Mia — Por aquilo que não foi. Há dois
discursos que o esmagam. Houve uma ficção daquele personagem por parte dos
portugueses, que o queriam maior do que era. Era preciso ter um inimigo grande
para engrandecer o feito de o ter vencido. A Frelimo, o Governo moçambicano,
precisou de construir nele um herói nacional. Houve uma mistificação daquele
personagem. O que procuro é a pessoa que sobrou no meio destas duas ficções.
Agualusa — Gosto dessa ideia [a pessoa que
sobrou].
Mia — Ainda sobre a coincidência de
escrevermos romances históricos: esta sede pelo passado vem da falta de futuro.
O Barroco Tropical do Zé era uma maneira de dizer que queremos outro futuro. A
necessidade de desenhar um futuro faz com que a gente tenha de recomeçar lá
atrás, a recriar um tempo que não foi aquele que nos disseram que existia.
Houve uma tentativa de impor só um passado.
A
necessidade de desenhar um futuro faz com que a gente tenha de recomeçar lá
atrás, a recriar um tempo que não foi aquele que nos disseram que existia
Mia
Uma visão única da história?
Mia — Como se o passado fosse uma coisa
simples, singular, única. E houve vários passados.
Agualusa — Parece que o passado nunca passa.
Uma das coisas mais interessantes ao estudar esta época da Rainha Ginga foi
perceber que aquilo é tão presente... A forma como aqueles conflitos se
desenrolam, as alianças feitas..., e tudo com pessoas. Por vezes, perdemos a
noção de que eram pessoas.
Porque os vemos apenas como mitos.
Agualusa — Sim. Eram pessoas inseridas em
processos históricos complicadíssimos. Quando comparamos a época da
independência, que é uma época de redesenhar as fronteiras, com a da Rainha
Ginga, que era também de redesenhar fronteiras, e de fazer um país, ou países,
porque é Angola que está em construção, é o Brasil que está em construção, é
Portugal que de certa forma está em construção, as situações são semelhantes. E
essas pessoas são pessoas. Procuravam o mesmo que procuramos hoje.
O quê? Felicidade, amor, glória?
Agualusa — Isso tudo que realmente conta,
essas coisas básicas, simples. Falámos tanto do medo: procuravam perder o medo.
O que é busca na sua viagem incessante?
Agualusa — Compreender. Compreender o outro
para perceber o que faço aqui. É tão cliché, mas é assim mesmo. À medida que
vamos crescendo, percebemos que o outro somos nós. Que não há um outro. Cada
vez sou mais fascinado (voltando à Biologia) pelas formigas. Há a tese de que o
formigueiro é que é o animal. As formigas são células do animal; não são sequer
células autónomas porque não sobrevivem longe, sozinhas. Talvez não estejamos
longe disto. Talvez sejamos um único animal.
Mia — O teu próximo curso é Biologia, vais
ver.
Agualusa — A humanidade é uma única entidade.
Sempre fomos o mesmo ao longo do tempo. É o mesmo animal, o mesmo ser. Daí o
absurdo dos conflitos. Estamos a combater-nos a nós próprios. Uma guerra civil
é uma guerra na qual nos combatemos a nós próprios, o nosso organismo.
Como um cancro. Que nasce de nós e nos mata.
Agualusa — É.
Mia — Porque é que deixamos de ver os outros
como uma parte de nós? Porque aprendemos a olhar de mais para nós. Há uma
anulação de nós próprios que temos de aprender. No fundo, o escritor é um
escutador. Aprendeu a ouvir os outros. E percebendo no fim que quem está ali é
ele próprio. Mas tem de começar por fora.
Agora que estamos a terminar, estava a
perguntar-me se seria diferente esta entrevista se eu fosse um homem. Será que
falaríamos mais dos conflitos africanos?
Agualusa — Pode ser. E pode ser que não
soubéssemos responder!
Mia — Se calhar também estamos a procurar ser
engraçados por ser uma mulher. [Gargalhada dos dois.]
Isto é também uma maneira de perguntar se
querem falar mais de política, de guerra. Têm um discurso muito crítico
politicamente.
Agualusa — Eu recebo notícias de Luanda todos
os dias. Sou atingido pelo facto de o regime existir e se comportar de uma
determinada maneira. E reajo a isso, como é óbvio.
Mas não é o centro da sua vida como no passado
a política foi um centro.
Agualusa — Na minha vida, nunca foi.
Mia — Na minha, foi.
Agualusa — O centro são as pessoas.
Mia — A política é uma maneira de chegar às
pessoas.
Agualusa — Tu foste militante partidário, eu
nunca fui. Completamente diferente. Sou militante de ideias. Não sou militante
de movimentos políticos. Como cidadão, intervenho todos os dias. Com certeza.
Mas a minha vida é muito mais.
Sente alguma limitação quando intervém?
Perseguem-no?
Agualusa — Eu tinha uma crónica no jornal A
Capital e deixei de ter. Alguém comprou o jornal e não pude continuar a
escrever. Claro que há limitações. O Rafael Marques escrevia no mesmo jornal e
pela mesma razão [foi dispensado]. Fomos apagados. Agora escrevo num jornal
online, na Rede Angola.
Mia — Aos 17 anos, procurava uma extensão da
família num partido político. Abandonei os estudos de Medicina, tudo, para me
dedicar àquela causa. Foi muito complicado pensar que [a política] era outra
coisa. A ruptura, em 1986, magoou-me muito. Ao mesmo tempo foi uma grande
libertação. Quiseram pagar-me os estudos, quando [saí da política activa].
Felizmente não aceitei. Não queria ter dívidas.
São o melhor amigo um do outro? Como irmãos?
Mia — Alguém é um grande amigo se temos um
momento intenso, uma coisa bonita que estamos a ver, e pensamos: “Gostaria que
ele estivesse aqui.” Penso nele. Rimo-nos muito das mesmas coisas,
imbecilidades. Partilhamos coisas que os escritores normalmente não partilham.
Ideias para livros. Sem receio. Agora diz lá porque é que tu és meu amigo!
Agualusa — Concordo inteiramente com o que
disseste. Há uma alegria no Mia, na escrita do Mia... E uma melancolia. Uma
tristeza elegante.
Mia — Ele faz uma coisa de que tenho inveja:
uma poesia que faz de conta que não é. Há um trabalho poético que ele não põe à
varanda. Quanto é que me pagas por ter dito isto?